Que a Filosofia, um F, nunca esteve bem neste país dos três F's - Fátima, Futebol e Fado -, todos nós sabemos. Mas nos dias de hoje, a Filosofia afunda-se cada vez mais. Como se não bastassem os "filósofos" chatos e inúteis (olá, Eduardo Lourenço. Olá, José Gil), não ajuda um certo ex-primeiro-ministro com apelido de filósofo dizer que leu muito o Kant. E ajuda muito menos um certo ex-ministro da Cultura, ex-candidato à Câmara Municipal de Lisboa, ex-deputado e professor catedrático de Filosofia (sem o "ex") ter agredido uma certa apresentadora de televisão muito dada a operações plásticas.
E é aqui que eu quero chegar. As consequências do caso Carrilho X Bárbara são nocivas para a percepção que o cidadão comum tem da Filosofia e dos filósofos em Portugal. Se os filósofos e a Filosofia já eram mal vistos ("aquilo são tudo paneleiros", "Filosofia? Isso não interessa para nada!", etc.), agora a situação está bem mais bera! Cometendo a falácia do tomar a parte pelo todo, as pessoas associam o comportamento do Carrilho, um filósofo (um mau filósofo, mas ainda assim um filósofo!), ao comportamento de qualquer pessoa que tenha um mínimo de relação com a Filosofia. Assim, e transformando isto num argumento, o que as pessoas pensam vai dar nisto:
O Carrilho bateu na mulher.
O Carrilho é filósofo.
Logo, quem é filósofo bate na mulher.
E pronto, está armada a confusão! E não adianta dizer que este argumento está mal formulado e o caraças, porque para perceberem a falácia as pessoas precisariam de ter um mínimo de entendimento filosófico. E não têm, nem querem ter. A Filosofia, por estas alturas, equivale à lepra de há séculos atrás: se a vêem aproximar-se, fogem a sete pés.
Estou a dizer estas coisas porque eu próprio já ando a sofrer na pele estes preconceitos. Lá no bairro, sou olhado de lado desde que a novela Carrilho e Bárbara veio a público. Eu bem oiço os comentários das vizinhas, apesar de levar os meus fones ligados e ter o volume alto:
- Olhe, olhe, ali vai o Peter of Pan.
- Ai que horror. Veja-me o olhar esgazeado dele. Nota-se bem que é licenciado em Filosofia.
- Pois é, pois é. Coitada da mulher. Deve apanhar poucas, deve.
- Então a vizinha não se lembra de na semana passada ela andar a tossir muito? Foi ele que lhe deu um pontapé nas costas, de certeza.
- Ah, o celerado. E a polícia não faz nada! Que escândalo! Era prendê-lo e queimar-lhe os livros todos.
- Ouvi dizer ali no café que o Peter of Pan tem um livro do Kripke.
- Ai! Isso só pelo nome... Não é coisa boa, de certeza. Antes andasse metido na droga, como o meu sobrinho. Ao menos, quando está naquilo, não chateia ninguém.
- E ainda dão essas coisas nas universidades.
- Realmente! Por isso é que este país está como está.
E é isto. Nem as amigas da minha mulher me poupam. Andam sempre a perguntar-lhe se ela está bem, se não sofreu nada, e a cereja no topo do bolo é tentarem saber se eu ando a ler "muito Égel ou muito Níche". Se a gaja responde "o normal, o mesmo de sempre", elas, à beira das lágrimas, desatam a abraçar a minha esposa, como se ela vivesse no meio de uma tragédia permanente. Já houve uma que, ao ver as minhas estantes de livros, pensou em denunciar-me à APAV. Não fosse a minha presença de espírito demonstrada na rapidez com que lhe mandei à tola a História da Filosofia Ocidental do Bertrand Russell, hoje estaria a ser julgado por violência doméstica.
Por estas e por outras, se um dia eu apanho o Carrilho à minha frente (obrigadinho por nada, meu palhaço!), digo-lhe que o William James é um filósofo menor. Vão ver se ele não fica a chorar baba e ranho durante umas duas semanas...
E é aqui que eu quero chegar. As consequências do caso Carrilho X Bárbara são nocivas para a percepção que o cidadão comum tem da Filosofia e dos filósofos em Portugal. Se os filósofos e a Filosofia já eram mal vistos ("aquilo são tudo paneleiros", "Filosofia? Isso não interessa para nada!", etc.), agora a situação está bem mais bera! Cometendo a falácia do tomar a parte pelo todo, as pessoas associam o comportamento do Carrilho, um filósofo (um mau filósofo, mas ainda assim um filósofo!), ao comportamento de qualquer pessoa que tenha um mínimo de relação com a Filosofia. Assim, e transformando isto num argumento, o que as pessoas pensam vai dar nisto:
O Carrilho bateu na mulher.
O Carrilho é filósofo.
Logo, quem é filósofo bate na mulher.
E pronto, está armada a confusão! E não adianta dizer que este argumento está mal formulado e o caraças, porque para perceberem a falácia as pessoas precisariam de ter um mínimo de entendimento filosófico. E não têm, nem querem ter. A Filosofia, por estas alturas, equivale à lepra de há séculos atrás: se a vêem aproximar-se, fogem a sete pés.
Estou a dizer estas coisas porque eu próprio já ando a sofrer na pele estes preconceitos. Lá no bairro, sou olhado de lado desde que a novela Carrilho e Bárbara veio a público. Eu bem oiço os comentários das vizinhas, apesar de levar os meus fones ligados e ter o volume alto:
- Olhe, olhe, ali vai o Peter of Pan.
- Ai que horror. Veja-me o olhar esgazeado dele. Nota-se bem que é licenciado em Filosofia.
- Pois é, pois é. Coitada da mulher. Deve apanhar poucas, deve.
- Então a vizinha não se lembra de na semana passada ela andar a tossir muito? Foi ele que lhe deu um pontapé nas costas, de certeza.
- Ah, o celerado. E a polícia não faz nada! Que escândalo! Era prendê-lo e queimar-lhe os livros todos.
- Ouvi dizer ali no café que o Peter of Pan tem um livro do Kripke.
- Ai! Isso só pelo nome... Não é coisa boa, de certeza. Antes andasse metido na droga, como o meu sobrinho. Ao menos, quando está naquilo, não chateia ninguém.
- E ainda dão essas coisas nas universidades.
- Realmente! Por isso é que este país está como está.
E é isto. Nem as amigas da minha mulher me poupam. Andam sempre a perguntar-lhe se ela está bem, se não sofreu nada, e a cereja no topo do bolo é tentarem saber se eu ando a ler "muito Égel ou muito Níche". Se a gaja responde "o normal, o mesmo de sempre", elas, à beira das lágrimas, desatam a abraçar a minha esposa, como se ela vivesse no meio de uma tragédia permanente. Já houve uma que, ao ver as minhas estantes de livros, pensou em denunciar-me à APAV. Não fosse a minha presença de espírito demonstrada na rapidez com que lhe mandei à tola a História da Filosofia Ocidental do Bertrand Russell, hoje estaria a ser julgado por violência doméstica.
Por estas e por outras, se um dia eu apanho o Carrilho à minha frente (obrigadinho por nada, meu palhaço!), digo-lhe que o William James é um filósofo menor. Vão ver se ele não fica a chorar baba e ranho durante umas duas semanas...




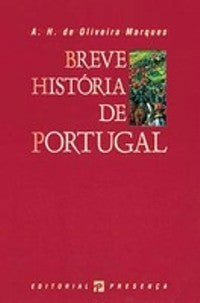
.jpg)


